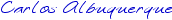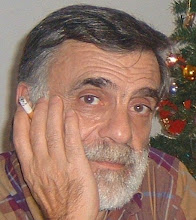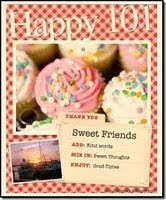(Reedição de um post de 2010)
Pelo caminho se meteu. Ao fundo,
deu com uma casa meio acubatada, duas tábuas a darem ares de porta. Forçou a
abertura, sem o conseguir. Caiu-lhe em cima uma tabuleta. Leu o que escrito
estava, em linhas meio enviesadas: “aqui vive Deus, em recolhimento, meditando,
não entre.”
Obedeceu.
Três dias depois voltou à
estrada. Caminhou pelo primeiro desvio. Deu com um portão de ferro, de cadeado
franqueado. “ Reino do demo”, leu numa chapa chamuscada e meio amolgada, “faça
o favor de entrar”.
Rejeitou o convite.
De regresso a casa, pôs-se a
cismar. Assim ficou sete dias inteiros. Ao oitavo, voltou às andanças, por um
carreiro de poeiras, desta feita. Uma vida depois parou. Sacudiu o pó, limpou
os olhos. Aquilo não era cubata, nem casa, nem nada de parecido, era só um
sítio com um letreiro, de luz aos tremeliques, dizendo: “Aqui vivemos os dois.
Entre.”
Entrou.
Numa mesa a levitar, estavam,
Deus, com o bordão de peregrino no bolso, e o demo, tridente à cinta, a jogar
xadrez. Nos intervalos de cada jogo, antes das peças realinhadas, Deus tentava
moldar um pedaço de barro. O demo batia com o sílex nos chavelhos, a ver se
deles tirava a faísca para atear o tridente. Palavras não as largava o
silêncio.
De confusão se encheu. Voltou
para trás. Em casa uma vez mais imaginou, com tenacidade. Findo o torvelinho do
pensamento tornou ao sítio do letreiro, que já lá não estava. Caída no chão,
apenas uma parra gatafunhada.
“Ele ganhou, mas batotou.
Voltarei mais tarde. Quero a desforra. Assinado – demo.”
Ao dobrar da folha, numa das
esquinas, estava aposto o carimbo: “Assinatura reconhecida por Deus.”
Ficou sem saber que destino dar
aos seus pensares perturbados.
Muita vida depois, foi de novo ao
letreiro. Encontrou-o, despido de dizeres, de luz apagada. Claridade, apenas a
do tecto brumaceiro descido da Lua, chegando para os ver. Um sem o bordão de
peregrino, outro despojado do tridente. O primeiro de testa enrugada, barbas
longas e brancas, o segundo de chavelhos caídos. Ambos envelhecidos, mas
continuando, em silêncio, de olhos pregados no xadrez.