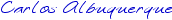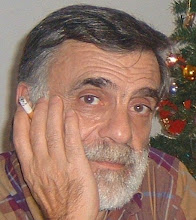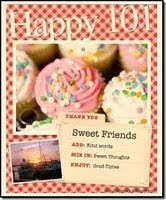E
O Mar da Boavista

A escola não era o nosso limite. Éramos aventureiros, putos atiradiços, de sangue na guelra, sem medo. Queríamos descobrir o centro do mundo! Existiria ele? E a aventura não estava só na sala de aula (apenas havia uma), onde, pensávamos, já tudo tínhamos descoberto (para nós escrita e contas eram um tu cá tu lá, até sabíamos onde pôr a cedilha e o h do verbo haver, para já não falar da tabuada que dizíamos enquanto o diabo esfregava um olho), mas fora dela.
Viesse uma borla, ou decidíssemos uma gazeta (sim, também o fazíamos! Devemos ter sido nós a inventar a greve…) e pronto! Lá íamos os seis atravessar a rua a correr, guinar para cima em direcção ao Miramar e, aqui chegados, flectir para as Barrocas do Bungo, à procura dos sulcos de terra vermelha (as nossas picadas), que desciam para o Mar da Boavista, lá muito em baixo. Só nos metíamos nestas andanças quando a luz que vinha do céu chegava despida de nuvens, deixando ver aquele azul sem igual. Chuva nas Barrocas era um Deus me livre, nem nós, corajosos e intrépidos, nos atrevíamos!
Lá íamos, descendo o monte, numa correria trôpega e ziguezagueante, saquetas da escola penduradas ao pescoço e sandálias nas mãos. Chegávamos lá abaixo cansados, mas ainda com forças para o encontro com o mar. Entrávamos pisando a borda baixinha do Atlântico, que, embora por vezes envergonhado, parecia estar à nossa espera. Envergonhado, sim, porque havia dias em que nos acolhia com as águas barrentas tingidas pela lama vermelha arrastada das Barrocas por chuva violenta da véspera. E disso, estou certo, ele não gostava. Preferia banhar-nos com águas cristalinas. O Oceano gostava dos putos da Escola 8!
Foi ali, esbracejando por espumas brancas e lamas, que me lancei na aventura do mergulho no mar. Conheci-lhe a carícia. Aprendi a não lhe contrariar a força e a vê-lo por dentro. Tomei-lhe para sempre o gosto salgado como os das primeiras lágrimas que chorei. Demos e damo-nos bem.
Foi ali, à beira do Mar da Boavista que conheci os pescadores, gente boa como pouca tenho encontrado, que dormiam com os dongos à porta das cubatas.
Para além do prazer do convívio, conversávamos, sem pressas, sentados na areia, em círculo, como, mais tarde, numa qualquer libata da Ilha da Kyanda, à luz das estrelas. Ensinaram-me eles a arte de ximbicar as canoas: movê-las, não com remos, mas com bordões que fincávamos no fundo do mar, impulsionando-as, o que exigia habilidade e perícia. Muitas vezes me aconteceu não subir o bordão a tempo, continuando a canoa a deslizar. Ficava, então, agarrado ao pau, pendurado, aos pinotes no ar, como um kamundongo preso pela cauda. Depois, está bom de ver, era a queda na água, o esbracejar e o vir à superfície com alguns pirolitos pelo meio e ranhoca a correr-me pelo nariz. Os pescadores riam e diziam: “munanga não lhe dás no jeito”. Mas, como mestres aplicados, insistiam. E eu aprendi! Em troca ensinei-lhes as letras que habitam as palavras e a forma de as ler. Construímos Amizade Grande.
A chegada a casa, sempre tardia, que o caminho demorava, era outra aventura: ralha, tareia da mãe e banho forçado com sabão Life Boy, pois então, que de nada me valiam as aldrabices esfarrapadas!