
Éramos seis putos, andando pelos sete e os oito anos, companheiros na Escola 8 de Luanda. Entre nós, o «Gungunhana» um negro mais preto do que tudo. Oito cacimbos pouco altos, mas pesados – ele era anafado! Nunca lhe percebi qualquer particularidade física, ou outra, a justificar a alcunha que, aliás, foram os professores a pôr-lhe. Também em tempo algum lhe ouvi um nome a sugerir-nos a troca pelo epíteto. Jamais se nos espevitou a curiosidade na procura de uma denominação mais parecida com as nossas. Seria ele Hermenegildo, Ezequiel, Malaquias, Saul ou Cláudio? Porque não Carlos, Francisco ou Paulo? E, depois, qual de nós se atrevia a questionar os mestres? Não os ouvíramos chamarem-lhe assim, sem que ele fosse à emenda? Naquele tempo, as coisas eram como quem mandava queria que fossem. Ficou «Gungunhana!» Quanto a mim continuo desconfiado de que ele gostava de ser anunciado, dito e chamado daquele modo. Teria ouvido falar de personagem histórico de nome idêntico, agradando-lhe a similitude? Provavelmente.
Sempre que apanhávamos um intervalo maior, uma «borla» por falta de professor, a escola encerrada por força de uma daquelas chuvadas fortes, que caíam sem aviso prévio, ou ainda porque nos apetecia gazetear, lá voltávamos costas às aulas, correndo para a Lagoa do Kynaxixe, na altura o limite da cidade. Depois dela, era o mato. Para lá íamos em algazarra ululante de miúdos kalús.
Com as sandálias, de pano e sola de pneu velho, ensacadas nas mochilas, seguíamos descalços tocando de mansinho a terra com as palmilhas dos pés, todas brancas. Até mesmo as dos negros e mulatos o eram, o que então muita confusão me fazia porque cor igual em todos também, só nas palmas das mãos e no sangue que via, assustado, quando algum de nós se arranhava numa das piteiras que estendiam os braços de picos eriçados por entre o capim. Aquilo deixou de me afectar, quando um dia aprendi que nos reproduzíamos todos pela mesma cor – a vermelha do sangue –, e nos amávamos e matávamos igualmente com a mesma – a branca da palma das mãos.
Da Escola 8 à Lagoa eram para aí novecentos metros, mil, contas ajeitadas, sempre a correr pelo capim, galgando um ou outro arbusto. Fazíamo-lo não se nos ouvindo um único resfolgo. O cansaço só mais tarde nos colhia. De súbito, estávamos ali, junto da água barrenta, alguma da chuva, outra, talvez a maior parte, vinha de baixo, das veias da terra, ou fosse lá de onde fosse, trespassando pedras e areia fina.
No Cacimbo, aquela água chegava a ser transparente e conseguíamos ver um ou outro bagre pequeno, esse estranho peixe que consegue sobreviver na lama, indo buscar oxigénio a reservas que ele próprio constrói dentro de si, por alquimias secretas. No Calor, como era o tempo em que ali estávamos, ela ficava turva, do tom da terra vermelha da zona, e, também, mais alta. A Lagoa enchia, prenhe das chuvas grandes do nosso fascínio.
Sempre que aquelas águas caíam e andávamos por ali à solta, os calções e as camisas juntavam-se às sandálias nas sacolas escolares. Todos nus corríamos de um lado para o outro, caras viradas para cima. Bocas abertas, bebíamos o céu deixando a água fresca tanger-nos as gargantas e voltar a sair, correndo-nos pelo peito, excitando-nos o coração de meninos mais valentes do que os heróis das histórias do Mosquito.
Éramos capitães de um só medo: pisar a água da Lagoa sem antes ouvirmos o Velho. Só ele sabia se a surucucu andava por ali naquele dia, ou não.
E, outras coisas!
O Velho, – o Mwata de nome Milagre –, homem de servir em casa dos meus pais, no Largo da Tendinha. Também ele se evadia para a Lagoa, sempre que podia, para falas com os «mininos da Escola». Magro e seco como um abacateiro, igual aos que nas roças crescem esguios até ao Sol, lá abrindo a copa maior que um capacete colonial parecido com o que o meu avô usava, protegendo com a sua sombra os cafeeiros de muitos braços carregados de ouro negro, que faziam a riqueza de uns quantos e, aprofundavam a escravidão e miséria de muitos outros. O Milagre era alto como as mangueiras da Funda agora mirradas, vá-se lá entender isto, e velho como um embondeiro (baobá). Tal como este, já nem sabendo a idade ou mesmo se menos velho alguma vez tinha sido. O meu Mwata nasceu já assim, de certo: com idade crescida, e sábio.
Com o Milagre, ficávamos até o Sol avisar serem horas do regresso a casa. As suas mãos secas de dedos finos e compridos como os dos artistas, esculpiam no ar histórias de encantamentos, que escutávamos seduzidos. De quando em quando interrompia-se, quedando-se em silêncio a fumar um cigarro enrolado com a parte acesa virada para dentro da boca, como fazia a lavadeira da minha casa enquanto esfregava a roupa com o filho dormitando agarrado às costas por um pano envolvendo-lhe o peito.
Às vezes, o Milagre alçava os braços.
Não entendia porque o fazia.
Pareciam-me impulsos do coração do Velho, em busca de mistérios perdidos ou de acontecimentos para anunciar, lá por cima, nas terras de Deus. Olhava-o, a ver se sim, mas permanecia inescrutável. – Não resisti. Um dia, perguntei-lhe:
- Porque te chamas Milagre?
Virou-se para mim. Ameigou-me o queixo e o cabelo com as mãos. Levantou-me suavemente a cabeça. Deixou repousar os seus olhos nos meus, e respondeu:
- Porque Deus me fez, e a minha mãe me disse assim!
-_-_-_-_-_-_-_-_-
O resto da história, e outras, aqui.

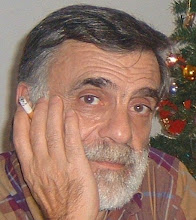





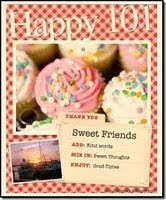







Sem comentários:
Enviar um comentário