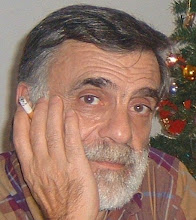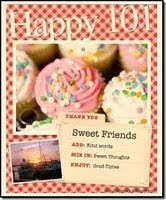De quando eu era um Kalú reguila
Éramos seis putos, andando pelos sete e os oito anos, companheiros na Escola 8 de Luanda.
Sempre que apanhávamos um intervalo maior, uma «borla» por falta de professor, a escola encerrada por força de uma daquelas chuvadas fortes, que caíam sem aviso prévio desventrando a terra, ou ainda porque nos apetecia gazetear, lá voltávamos costas às aulas, correndo para a Lagoa do Kynaxixe, na altura o limite da cidade. Depois dela, era o mato. Para lá íamos em algazarra ululante de miúdos kalús.
Com as sandálias, de pano e sola de pneu velho, ensacadas nas mochilas, seguíamos descalços tocando de mansinho a terra com as palmilhas dos pés, todas brancas. Até mesmo as dos negros e mulatos o eram, o que então muita confusão me fazia porque cor igual em todos também, só nas palmas das mãos e no sangue que via, assustado, quando algum de nós se arranhava numa das piteiras que estendiam os braços de picos eriçados por entre o capim. Aquilo deixou de me afectar, quando um dia aprendi que nos reproduzíamos todos pela mesma cor – a vermelha do sangue –, e nos amávamos e matávamos igualmente com a mesma – a branca da palma das mãos.
Da Escola 8 à Lagoa eram para aí novecentos metros, mil, contas ajeitadas, sempre a correr pelo capim, galgando um ou outro arbusto. Fazíamo-lo não se nos ouvindo um único resfolgo. O cansaço só mais tarde nos colhia. De súbito, estávamos ali, junto da água barrenta, alguma da chuva, outra, talvez a maior parte, vinha de baixo, das veias da terra, ou fosse lá de onde fosse, trespassando pedras e areia fina.
No Cacimbo, aquela água chegava a ser transparente e conseguíamos ver um ou outro bagre pequeno, esse estranho peixe que consegue sobreviver na lama, indo buscar oxigénio a reservas que ele próprio constrói dentro de si, por alquimias secretas. No Calor, como era o tempo em que ali estávamos, ela ficava turva, do tom da terra vermelha da zona, e, também, mais alta. A Lagoa enchia, prenhe das chuvas grandes do nosso fascínio.
Sempre que aquelas águas caíam e andávamos por ali à solta, os calções e as camisas juntavam-se às sandálias nas sacolas escolares. Todos nus corríamos de um lado para o outro, caras viradas para cima. Bocas abertas, bebíamos o céu deixando a água fresca tanger-nos as gargantas e voltar a sair, correndo-nos pelo peito, excitando-nos o coração de meninos mais valentes do que os heróis das histórias do Mosquito.
Éramos capitães de um só medo: pisar a água da Lagoa sem antes ouvirmos o Velho. Só ele sabia se a surucucu andava por ali naquele dia, ou não.
E, outras coisas!
O Velho, – o Mwata de nome Milagre –, homem de servir em casa dos meus pais, no Largo da Tendinha. Também ele se evadia para a Lagoa, sempre que podia, para falas com os «mininos da Escola». Magro e seco como um abacateiro, igual aos que nas roças crescem esguios até ao Sol, lá abrindo a copa maior que um capacete colonial parecido com o que o meu avô usava, protegendo com a sua sombra os cafeeiros de muitos braços carregados de ouro negro, que faziam a riqueza de uns quantos e, aprofundavam a escravidão e miséria de muitos outros. O Milagre era alto como as mangueiras da Funda, e velho como um embondeiro. Tal como este, já nem sabendo a idade ou mesmo se menos velho alguma vez tinha sido. O meu Mwata nascera já assim, por certo: com idade crescida, e sábio.
Com o Milagre, ficávamos até o Sol avisar serem horas do regresso a casa. As suas mãos secas de dedos finos e compridos como os dos artistas, esculpiam no ar histórias de encantamentos, que escutávamos seduzidos. De quando em quando interrompia-se, quedando-se em silêncio a fumar um cigarro enrolado com a parte acesa virada para dentro da boca, como fazia a lavadeira da minha casa enquanto esfregava a roupa com o filho dormitando agarrado às costas por um pano envolvendo-lhe o peito.
Às vezes, o Milagre alçava os braços.
Não entendia porque o fazia.
Pareciam-me impulsos do coração do Velho, em busca de mistérios perdidos ou de acontecimentos para anunciar, lá por cima, nas terras dos deuses. Olhava-o, a ver se sim, mas permanecia inescrutável. – Não resisti. Um dia, perguntei-lhe:
- Porque te chamas Milagre?
Virou-se para mim. Ameigou-me o queixo e o cabelo com as mãos. Levantou-me suavemente a cabeça. Deixou repousar os seus olhos nos meus, e respondeu:
- Porque Deus me fez, e a minha mãe me disse assim!